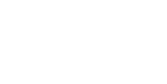Há 60 anos, em 31 de março de 1964, tropas do Exército comandadas pelo general Olympio Mourão Filho movimentaram-se a partir de Minas Gerais e seguiram para o antigo Estado da Guanabara (atual cidade do Rio de Janeiro), com o objetivo de depor o então presidente João Goulart. Outras, baseadas em Brasília, ocuparam pontos estratégicos da capital e cercaram o Congresso Nacional. Algumas tropas legalistas chegaram a ser mobilizadas para conter o avanço dos oponentes, mas não houve resistência e, nos dias que se seguiram, Jango foi para São Borja (RS) e, de lá, seguiu para o exílio no Uruguai. E os governadores Seixas Dória, de Sergipe, e Miguel Arraes, de Pernambuco, que apoiavam Goulart, chegaram a ser presos e enviados para a ilha de Fernando de Noronha.
O “Golpe de 1964”, chamado na época de “Revolução de 1964” pelos apoiadores, e que resultou em um período de 21 anos de ditadura no Brasil, foi o ponto alto de uma crise política entre setores empresariais, parte dos militares e movimentos de direita contra o governo Jango, que buscava implementar as chamadas “Reformas de Base”, uma série de reformas estruturais nos setores educacional, fiscal, político, urbano e agrário. Esta crise tinha um contexto geopolítico muito forte na época: o da chamada Guerra Fria entre os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os socialistas, ligados à antiga União Soviética.
“O discurso era de que João Goulart tinha vínculos com o comunismo e de que iriam implantar uma república sindicalista. É um contexto em que já existiam instituições como instituições conservadoras e reacionárias, que apelavam para esse senso comum de que o comunista ‘comia criancinha’, de que ia acabar com a liberdade das pessoas, tomar a propriedade… Esse discurso era muito utilizado em todos os países do mundo utilizado como pano de fundo para a legitimação de intervenções armadas e golpistas.”, explica o professor Maurício Gentil Monteiro, do curso de Direito da Universidade Tiradentes (Unit).
Esse clima de acirramento já vinha se desenrolando alguns anos antes e começou em 25 de agosto de 1961, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros. Jango era o vice-presidente e estava em visita oficial à China, mas os opositores de Jânio, aliados a setores das Forças Armadas, tentaram impedir a posse, ameaçando inclusive prendê-lo. A crise gerou a Campanha da Legalidade, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e foi resolvida após a aprovação de uma emenda que instituiu o regime parlamentarista no Brasil, delegando poderes do presidente a um primeiro-ministro. Jango assumiu o governo e o parlamentarismo foi rejeitado em um plebiscito, realizado em 1963.
Alguns episódios agravaram a crise política naquele março de 1964: o Comício da Central do Brasil (no Rio de Janeiro), no dia 13, onde Jango fez uma intensa defesa das reformas, e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19, em São Paulo, que pedia a saída do presidente. A tensão escalou até a movimentação das tropas golpistas, no dia 31, e culminou no dia 2, quando o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, em meio a uma sessão bastante tumultuada, declarou vago o cargo de presidente, alegando que Goulart “abandonou o governo e deixou a Nação acéfala”.
Para o professor, a declaração de vacância, figura jurídica existente na Constituição de 1946, foi usada irregularmente. “João Goulart que não abandonou cargo nenhum. Ele foi deposto pelos militares no regime de força. Embora segmentos políticos tivessem tentado fazer com que Jango resistisse ao golpe, ele mesmo teria declarado que não iria fazer isso porque queria evitar derramamento de sangue”, contestou Gentil, avaliando que o ato do Congresso à época “foi só uma tentativa de formalizar e legitimar juridicamente um regime imposto à força”. A sessão daquele dia foi anulada oficialmente pelo Congresso em novembro de 2013.
Sem eleições
Após cerca de 15 dias sob o comando interino do então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, a chefia do governo brasileiro foi entregue ao marechal Humberto Castello Branco, escolhido por votação indireta do Congresso. Ele baixou uma série de atos institucionais (AIs) para cassar mandatos parlamentares e judiciais; unificar todos os partidos políticos em apenas dois (Arena e MDB); e suspender as eleições diretas para governadores dos estados, entre outras medidas.
Inicialmente, o governo Castello Branco ficaria no poder até janeiro de 1966 e seria substituído pelo vencedor das eleições que estavam programadas para outubro de 1965. No entanto, um dos atos institucionais prorrogou o mandato por mais um ano e suspendeu as eleições diretas para presidente, o que permitiu a ascensão de alas radicais do Exército que faziam oposição a Castello, como a liderada pelo marechal Arthur da Costa e Silva, que o sucedeu no governo em 1967 e morreu dois anos depois.
Maurício Gentil afirma que a promessa de “intervenção temporária” dos militares foi apenas outro discurso para legitimar o golpe de estado. “ Era mais uma legitimação do golpe, o que fez até com que alguns civis, de início, aderissem ao golpe e logo depois tenham percebido esse equívoco e se posicionado contra a então já anunciada e escancarada ditadura militar. Os planos de quem conseguiu conquistar o poder à força e, a partir daí, implantar um regime autoritário, começam a mudar porque eles percebem que poderiam estender por mais tempo esse domínio antidemocrático”, diz ele.
O que aprendemos?
A ditadura militar foi oficialmente encerrada em abril de 1985, quando o presidente João Baptista Figueiredo passou o cargo a José Sarney, escolhido indiretamente como vice da chapa de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a Presidência. O professor de Direito apontou que esse período foi “um regime de terror”, que além de suprimir liberdades públicas e individuais, foi marcado por uma série de crimes e violações de direitos humanos, como torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados.
“Infelizmente, tentativas posteriores de se passar a limpo esse período da nossa história não se concretizaram a fundo”, lamenta Gentil, referindo-se à Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2011 e 2014, para investigar os crimes cometidos pelo Estado entre 1946 e 1988. A tentativa de responsabilizar criminalmente os agentes envolvidos nestes crimes esbarrou na Lei de Anistia promulgada em 1979, e cujo pedido de revisão foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
“Como não houve a efetiva Justiça de transição, sem a devida punição desses praticantes desses bárbaros crimes que nos atormentaram, a impunidade desses crimes de ontem, conduz a impunidade dos crimes de hoje e é o que a gente tá tentando evitar agora hoje”, diz Maurício, referindo-se aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando militantes de extrema-direita atacaram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do STF, em Brasília. Eles estão sob investigação da Polícia Federal, que já considera tais atos como parte de uma nova tentativa de golpe de estado. “Não ter sido feita a lição de casa anteriormente abre margem para que esse tipo de coisa ainda possa voltar acontecer. É por isso que nesse momento precisamos ter as lições de não ter feito essa lição e evitar que novas tentativas de aventura golpista ocorram em nosso país”, concluiu.
Leia mais:
Propostas de mudanças das leis eleitorais podem compor novo Código Eleitoral
Os riscos da radicalização política nas corporações militares